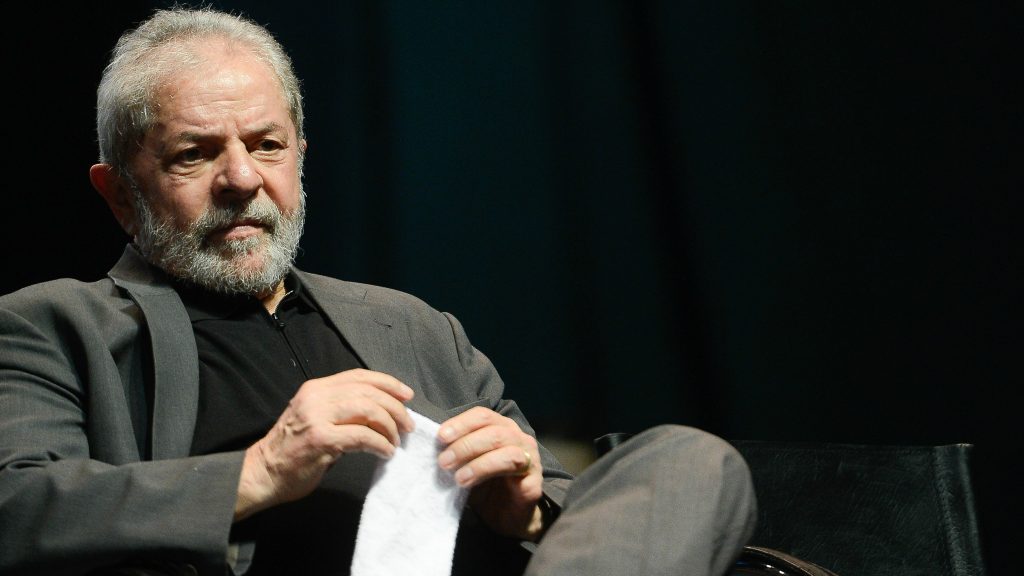Introdução:
Minha resposta à pergunta-título é imediata e incisiva: sim, está nos roubando, demais, despudoradamente e há muito tempo! Cabe-me agora, naturalmente, explicar os porquês de tamanha convicção.
O que será escrito em seguida precisa ser uma réplica convincente, ou, se não tanto, que desperte o leitor para a relevância desse assunto tão amplo, que vem sendo objeto de infindáveis debates há séculos, que afeta indubitavelmente as nossas vidas e que, a rigor, deve requerer um número de páginas superior milhares de vezes às deste pequeno artigo.
Por que o Estado moderno cresceu tanto, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a ponto de nos fazer engolir o famoso Paradoxo de Bell, formulado pelo sociólogo americano Daniel Bell (1919-2011), que se definia como um social democrata (keynesiano) em economia, um liberal em política e um conservador quanto aos valores culturais, naquilo que qualificava como disjuntion of realms (desunião de reinos).
Com efeito, no pós-guerra, cresceu a crença na necessidade das ações contínuas do Estado para garantir e estimular o crescimento econômico e o “bem-estar”, com o consequente crescimento das demandas por gastos públicos. A combinação de recursos e meios, ambos limitados, com essas demandas crescentes levaram Bell a formular algumas questões importantes daquela era. [1]
Obviamente, o aumento nas despesas do governo alimentou necessidades crescentes de arrecadação, além de outros males, como as dívidas do Estado, a inflação e o desemprego. Jamais, em toda a história da civilização, o furor arrecadador do Estado chegou sequer perto daquilo que se vem observando nos últimos tempos, em praticamente todo o planeta. A diferença, para pior, é que, no passado, os publicanos ou exatores eram mal vistos pelos cidadãos, enquanto, nos tempos atuais, poucos são os que se dão conta de que ao cobrar mil reais de tributo, o Estado está retirando mil reais de quem, mediante esforço, trabalho e suor, gerou a produção equivalente. Em outras palavras, os pagadores atuais — eufemisticamente designados de “contribuintes” — são muito mais conformados do que seus antepassados, aceitando passivamente a exploração tributária de que são vítimas. Muitos até acreditam piamente que, ao pagarem seus impostos, taxas e contribuições, estão de alguma forma contribuindo para o “bem comum”, quando, na verdade, os recursos que lhes são subtraídos pelos exatores de plantão se destinam a aumentar o “bem-estar” dos políticos, manter estruturas de Estado paquidérmicas, ineficientes e invariavelmente corruptas.
Podemos afirmar que o Estado moderno é um exator impostor [2], porque pratica uma impostura, um embuste — sem dúvida um ato profundamente imoral –, o de arrecadar segundo suas promessas eleitoreiras e utilizar os recursos arrecadados segundo critérios meramente políticos, sem compromisso maior para com o cidadão. E, ao mesmo tempo, é um publicano insano, ou seja, custoso, que é o sentido figurado que os dicionários dão a esse adjetivo, porque cobra muito, a um custo muito elevado, e oferece bem pouco em termos de proporcionar instituições e serviços públicos razoáveis.
Para justificar o logro tributário, vale-se invariavelmente dos surrados – e fracassados – argumentos de que ao Estado caberia a “indução” do desenvolvimento da economia e da sociedade, a “distribuição” da renda e da riqueza e a geração de empregos a três por dois, sob o manto – visto como moralmente inatacável, mas que na realidade é um mero pretexto politicamente desejável – do keynesianismo e, em alguns países onde é mais fácil espargir tolices, do socialismo. A verdade é que tanto um quanto o outro – keynesianismo e socialismo – são doutrinas imorais, o primeiro porque enaltece a gastança e condena a poupança e o segundo porque promete distribuir resultados sem exigir esforços. E ambos impõem pesadíssimos ônus às gerações futuras, em termos de financiamento dos gastos públicos.
Passemos agora a algumas considerações importantes sobre Estado, lei, Direito, propriedade e liberdade, para em seguida esboçarmos as conclusões de que o Estado, na verdade e na prática, é nosso servo, um empregado que se faz passar por senhor e que vive continuamente – e cada vez mais – a nos furtar.
Estado e lei:
Desde que o homem descobriu a possibilidade de viver em sociedade, percebeu que se via necessariamente diante de um dilema: usando a metáfora de Homero, ele deveria oscilar entre o Scyllas do isolamento, garantidor de liberdade total, porém incompatível com a divisão do trabalho e, portanto, limitador do progresso, e o Caribdes da vida em grupo, limitador da liberdade, mas gerador de incontestáveis benefícios que deveriam, contudo, variar de acordo com o êxito, a capacidade, a boa sorte ou o poder obtido por cada indivíduo. A fórmula encontrada, mediante usos e costumes, para conciliar o dilema foi a criação de um acordo comunitário [3], que implicasse a cessão de parte da liberdade total, em troca de garantias aos direitos individuais básicos, para que os mais fortes, inteligentes, capazes e perspicazes não dominassem os mais fracos, néscios, incapazes e broncos, o que resultaria na concentração do poder nas mãos de poucos.
Esse acordo comunitário brotado espontaneamente da ação humana ao longo de muitos anos jamais foi assinado, mas proporcionou o nascimento de uma entidade que teoricamente se colocasse acima de todos, dos fracos e dos fortes, dos tolos e dos inteligentes, dos preguiçosos e dos diligentes e que viesse a exercer a função de zelar, imparcialmente, pelos interesses da sociedade. Portanto, esta é, em linhas gerais, a origem do Estado e de seu braço executivo, o governo: um ente cuja finalidade é evitar que alguém, ou algum grupo, transforme-se em opressor dos demais, sendo que a sociedade aceita a existência dessa criação superior, neutra, equidistante e preocupada em zelar pelos interesses de todos. Enfim, um grupo formado por santos.
Entretanto, o crescimento exagerado que o Estado experimentou, especialmente a partir do século XX, fez com que ele, que nascera para prevenir um mal – o da concentração de poder nas mãos de poucos indivíduos – acabasse produzindo um mal maior – o da mesma concentração de poder, porém agigantada, não mais apenas de poder político, mas também econômico e cultural, em suas próprias mãos.
Uma das expressões mais utilizadas por juristas, políticos e a mídia é “estado democrático de direito”, mas o que isso na verdade significa?
Na tradição do pensamento liberal, a finalidade da lei não deve ser restringir, nem impedir, mas preservar e ampliar as liberdades (com responsabilidade) individuais. O liberalismo rejeita o conceito positivo de lei, originário da jurisprudência analítica de John Austin, de um lado, e do positivismo jurídico – que, diga-se de passagem, derramou influências profundas no direito brasileiro -, associado ao nome de Kelsen. Tal conceito identifica o direito com sua própria forma. Em outras palavras, o positivismo jurídico tende a confundir direito com legislação. Tal desvio em relação à tradição romana parece ser consequência da ideia enganosa de que o Rechtsstaat (Estado democrático de direito) eliminaria por si só a possibilidade de que o direito pode ser injusto, o que explica, em parte, a atitude de acreditar que o direito possa ser reduzido a um problema de forma e de quantidade, quando na realidade o que importa é o conteúdo e a qualidade.
Um dos legados mais importantes do liberalismo clássico, incluindo o dos denominados Founding Fathers [4] foi a preocupação com a possibilidade de uma maioria vir a exercer uma tirania, mediante o bloqueio dos canais de acesso ao poder por parte das minorias, na eventualidade destas, ao longo do tempo, transformarem-se em maioria. Hayek [5] também manifestou diversas vezes a mesma preocupação, na medida em que sustentava que, sob o ponto de vista liberal, a democracia deveria ser encarada tão somente como um dos métodos de governo, que ele reconhecia ser o melhor (ou o menos danoso), mas que deveria ser considerado como um simples meio para que os direitos fundamentais fossem sempre respeitados. De fato, existe uma grande diferença entre declarar-se democrata porque as maiorias têm sempre razão e defender a democracia como uma instituição cuja finalidade precípua seja a contenção do poder.
É preciso distinguir, portanto, a visão derivada de Rousseau, que vê a democracia como um fim, quase que como um sacramento, da postura liberal-conservadora, que a considera, pura e simplesmente, como um meio de governo. A primeira pode ser denominada de ideologia democrática ou democratismo, ao passo que a segunda constitui-se em uma doutrina democrática.
Daí a necessidade de se estabelecerem mecanismos institucionais que assegurem a contenção do poder do Estado dentro de limites, além dos quais os direitos individuais básicos seriam agredidos. Como escreveu Thomas Paine:
“A sociedade é produzida por nossas carências, o Governo por nossa perversidade. A primeira promove positivamente nossa felicidade, unindo nossos afetos. O segundo negativamente, restringindo nossos vícios. A primeira estimula a interação, o outro cria distinções. A primeira protege, o segundo pune. A sociedade, em qualquer de seus estágios, é uma bênção, ao passo que o governo, mesmo em sua melhor forma, não passa de um mal necessário; e, na sua pior versão, um mal intolerável” [6]
Os liberais e os conservadores são democratas não por julgarem que a maioria não cometa erros, mas porque as tradições democráticas são as menos defeituosas que a humanidade conhece. Daí, sua preocupação com a questão da contenção do poder. Quando ocorre uma expansão desmedida do Estado, as consequências são invariavelmente – uma vez que a natureza humana tem sido a mesma desde os tempos de Adão – o abuso de poder e a sujeição de toda a sociedade ao arbítrio falível das pessoas que detêm o Estado. Portanto, o crescimento do Estado mostra-se incompatível com a preservação das liberdades individuais.
Em função disso é que aceitam o Estado, mas com a importante ressalva de que, para ser aceitável, ele deve ser mínimo. A definição de “estado mínimo” tem sido objeto de extensa literatura sobre o fenômeno do crescimento do Estado, especialmente pelas repercussões que acarretou em termos da invasão que o sistema político passou a executar sobre o sistema econômico e que teve no keynesianismo seu pretenso respaldo “científico” na teoria econômica e no socialismo, na social democracia e no nacionalismo suas grotescas facetas populistas.
Tanto o relativismo moral quanto o crescimento do Estado que ele desencadeou pareciam desconhecer que a capacidade destrutiva dos indivíduos, embora perversa, é insignificante diante da que o Estado, mesmo quando bem-intencionado, revelou possuir. Onde é grande o Estado, onde as instituições democráticas revelam incapacidade para conter a concentração de poder e onde os valores tradicionais sobre o certo e o errado são desdenhados – e, muitas vezes, ridicularizados e até alvo de perseguições – o componente de egoísmo que sempre caracterizou os seres humanos não encontra limites à sua expansão. Como bem observou João Paulo II em 1991:
“A atividade econômica, em particular a da economia de mercado, não se pode realizar num vazio institucional, jurídico e político. Pelo contrário, supõe segurança no referente às garantias da liberdade individual e da propriedade, além de uma moeda estável e serviços públicos eficientes. A principal tarefa do Estado é, portanto, a de garantir esta segurança, de modo que quem trabalha e produz possa gozar dos frutos do próprio trabalho e, consequentemente, sinta-se estimulado a cumpri-lo com eficiência e honestidade. A falta de segurança, acompanhada pela corrupção dos poderes públicos e pela difusão de fontes impróprias de enriquecimento e de lucros fáceis fundados em atividades ilegais ou puramente especulativas é um dos obstáculos principais ao desenvolvimento e à ordem econômica.” [7]
A Escola Austríaca e o Estado:
Mises e Hayek manifestaram visões bastante semelhantes a respeito da necessidade de ações estatais, especialmente na legislação e na economia. Hayek era um tanto mais condescendente do que Mises, na medida em que admitia a ideia de que, em condições de desespero, o Estado poderia, excepcional e temporariamente, estabelecer políticas de rendas [8]. Mas ambos aceitavam a tese de que o Estado deve ser forte e que, para isso, a extensão de seus poderes deve ser severamente limitada, uma vez que o conceito de Estado não pode ser separado da defesa liberal da liberdade individual responsável como um bem supremo, o que conduz à defesa do papel que a lei deve desempenhar para garantir a liberdade.
A essência da visão hayekiana do Estado é que ele deve ser contido, tanto quanto for possível, limitando-se à manutenção das instituições – como o judiciário, por exemplo – e as regras que regem sua administração devem ser estabelecidas como normas gerais de justa conduta (nomos). Quando a legislação (thesis) adquire dominância sobre a lei, os cidadãos, tornando-se servos do Estado, ingressam no que ele chamou de caminho da servidão. [9]
Tal postura institucional reflete, sem dúvida, a preferência que os economistas da Escola Austríaca têm pelos mercados livres como sistemas de alocação de recursos, bem como sua convicção sobre a superioridade moral do individualismo sobre o coletivismo.
Já Rothbard, seguidor de Mises, adota uma posição mais libertária, rejeitando inteiramente os conceitos aristotélicos e platônicos do Estado como a personificação dos esforços morais mais elevados. Seu argumento parte da proposição de que o homem é um ser social e que, portanto, o Estado é aquela instituição “natural”, através da qual cada indivíduo torna-se capaz de completar sua verdadeira natureza. Porém, como frisa em Power and Market [10], isso não significa uma defesa do Estado, uma vez que este e a “sociedade” são coextensivos: o ponto de vista libertário é que o Estado representa, na realidade, um instrumento antissocial.
Essa visão rothbardiana do Estado pode ser condensada em alguns pontos. Primeiro, ele não aceita a tese de que “nós” somos o governo em decorrência do poder do voto democrático. Em The Anatomy of the State, argumenta que o Estado não é uma associação voluntária, como um clube ou um sindicato, mas aquela organização que “procura manter um monopólio do uso da força […] em uma determinada área territorial” [11]. Segundo, ele considera uma falácia a noção mística de que o Estado é uma grande “família humana”, reunida para solucionar os problemas de todos, pois ele na verdade é um canal legalizado para a apropriação da propriedade privada, que é, aliás, anterior à criação do próprio Estado. Terceiro, ele desmistifica a ideia ingenuamente difundida entre os economistas de cores intervencionistas, de que as intervenções do Estado na economia são movidas por “boas intenções” e “motivos superiores”. E quarto, ele sustenta sua convicção de que o Estado, sendo composto por um conjunto de indivíduos, reflete necessariamente suas próprias fraquezas, interessando-se mais por seus próprios assuntos e pela preservação do poder do que pela busca do bem comum. [12] E sugere o desafio de examinarmos as diferenças entre as atitudes em relação aos delitos cometidos contra o Estado, como por exemplo, a falsificação de moeda e a sonegação de impostos, e os crimes cometidos contra os cidadãos privados, como roubos, assaltos, estelionatos e assassinatos, aos quais podemos acrescentar os cometidos por ele próprio contra os cidadãos, ao se mostrar incapaz de garantir a segurança da população que o sustenta.
Podemos dizer, a respeito da natureza e das funções do Estado, que existe um razoável consenso entre os autores da Escola Austríaca, de que ele, tendo sido criado pelos indivíduos para ser um ente neutro, equidistante e voltado para proteger os direitos individuais básicos à vida, à liberdade e à propriedade, deve ater-se a manter a autoridade da lei, através do direcionamento de seu poder coercitivo para o estabelecimento e garantia do cumprimento das regras gerais de justa conduta.
Nunca será demais frisar e refrisar que o Estado não é nosso senhor, mas nosso servo e que nós o pagamos para nos servir. Por isso, as instituições devem ser modeladas com o objetivo de garantir a contenção de seu poder. Apenas quando nós, brasileiros, conseguirmos entender este fato tão simples, é que seremos capazes de esboçar instituições que façam de nosso país aquilo que almejamos.
Só existe uma explicação plausível para a necessidade de existência do Estado: garantir os direitos individuais, especificamente os direitos fundamentais à vida, à liberdade e a propriedade.
O Direito é anterior ao Estado: ação humana e propriedade privada originaram o Direito:
Afirmar que é o Estado quem garante o Direito e a propriedade privada é uma contradição lógica, pois ação humana e propriedade privada são, necessariamente e por definição, anteriores ao Estado. Antes de surgir o Estado os indivíduos já agiam; e a noção de propriedade privada já era intrínseca à ação do indivíduo. [13] Além disso, pode-se também dizer com plena certeza que a propriedade privada e a ação humana são a base de todo o ordenamento jurídico.
O estado de direito — isto é, o primado da lei — não necessita de um Estado (governo), ou seja, não é necessário existir um governo para haver um estado (uma situação) de direito. Mais ainda: somente sem um Estado seria possível descobrir competitivamente qual é o melhor Direito — vale dizer, qual seria o melhor ordenamento jurídico.
Caem em uma contradição aqueles que postulam a necessidade de um governo para criar e impingir leis, porque quando o Direito é determinado e impingido pelo Estado, tem-se apenas um conjunto de legislações criadas pelos próprios legisladores. Consequentemente, tem-se inevitavelmente um conjunto de normas que o mais forte impõe ao mais fraco, em que seu conteúdo é menos importante do que o ato de força por meio do qual elas são impostas, isto é, o que os distingue é a ênfase na coerção e não na adequação e moralidade das normas. Preocupam-se com a coerção, a necessidade de seu cumprimento, não importando os meios utilizados.
Os defensores do estabelecimento de um salário mínimo exemplificam muito bem esse tipo de atitude: se João quer trabalhar e está voluntariamente disposto a aceitar um salário menor do que mínimo imposto pelo governo, ele será proibido. Os que defendem essa legislação aceitam a imposição de sanções e punições contra João, que ficará sem emprego e seu empregador, que certamente terá problemas com a dita “justiça do trabalho”. Como escreveu Juan Ramón Rallo:
Qual a incoerência desta postura? Simples: ao mesmo tempo em que tais pessoas dão menos importância ao conteúdo e mais à necessidade de impô-lo à força, elas asseguram que o direito impingido pelo estado é a pré-condição para uma sociedade livre: “sem normas não há mercado” [14]
Segundo essa abordagem socialista do Direito, o pressuposto, equivocado, é o de que as sociedades nascem e evolvem por meio das normas coercitivas decretadas por um mandachuva e não das interações voluntárias e espontâneas dos indivíduos. É o primado de thesis (ordens emanadas da legislação) sobre nomos (leis, normas abstratas de justa conduta, concisas, prospectivas e baseadas em usos, costumes e tradições). Como observa o mesmo Rallo,
Sem uma mente consciente, respaldada pela força de um aparato policial, não haveria normas. E, sem normas, não haveria relações.
Mas a verdade é que a ação humana livre e a propriedade honestamente adquirida é que delimitam o início da análise teórica e histórica, pois os vínculos que caracterizam as atividades humanas necessariamente são interiores às normas e as determinam. Normas são expectativas quanto à maneira como outro indivíduo irá agir, perspectivas que podem surgir de promessas – ius (direito em latim) – que deriva de iurare, (jurar) ou de costumes, de comportamentos idênticos ou semelhantes verificados no passado. Giovanni Sartori [15] observa que, na tradição romana, ius (em latim, a lei) ligou-se definitivamente com iustum (o que é justo). Os gregos não possuíam um equivalente à palavra ius: os termos diké e dikaiosúne expressam a idéia moral, mas não a idéia legal de justiça, o que significa, de acordo com Battaglia e Sforza [16], que não são equivalentes a iustum, que deriva de ius. Com o passar do tempo, a antiga palavra usada para denominar o direito passou a ser, em inglês (right), em italiano (diritto), em espanhol (derecho) e em francês (droit), designativa de justiça. Em outras palavras, ius é tanto o legal como o justo. Isto significa que o direito não foi concebido como o conjunto de regras gerais postas em vigor por um soberano (iussum), mas como uma regra que expressa e encarna o sentido de justiça da comunidade (iustum). Portanto, em sua concepção original, o direito é mais do que uma norma qualquer que tem a forma de uma lei; ele é um conjunto de normas com um conteúdo, isto é, de regras que possuem o atributo e a qualidade de serem justas.
E se a tese socialista de que a propriedade privada só teria surgido de fato depois da criação de uma ordem jurídica estatal for correta? Deixemos Rallo responder:
“[…] Então, temos um inevitável problema lógico e cronológico: como esse Estado nasceu? Como ele obteve suas receitas tributárias para pagar seu aparato policial, seus funcionários e seus juízes se não havia propriedades a serem tributadas?”
“Com efeito, os socialistas recorrem a essa teoria sem sentido unicamente com o intuito de querer argumentar que a propriedade privada é um privilégio concedido pelo Estado aos indivíduos, graças à sua legislação e à sua proteção policial. Consequentemente, a propriedade seria um privilégio que está subordinado a todas as eventualidades e alterações que seu mantenedor — o estado — queira lhe infligir.” [17]
“Porém, como dito, a propriedade privada e a ação humana são necessariamente anteriores ao Estado (por uma questão de lógica). Por isso, pode-se dizer com plena certeza que ambas são a base de todo o ordenamento jurídico. As normas não criam a sociedade; é a sociedade quem cria normas, e faz isso de maneira contínua e evolutiva. Como disse Paolo Grossi: ‘A práxis — atividade humana na sociedade — constrói dia a dia seu Direito, moldando e modificando segundo as exigências do local e do tempo’”.
Ademais, demarcar a distinção entre sociedade e Direito, atribuindo a este a única fonte de sabedoria normativa, significa a proibição de que os indivíduos possam criar o Direito a partir de suas interações, ou seja, equivale a proibir a ação humana e a renegar o Direito consuetudinário. Por isso, um Direito com esse cariz socialista irá inevitavelmente construir uma sociedade completamente regulada e escravizada, aquela thesis de que nos falou insistentemente Hayek.
São determinantes as diferenças entre nomos e thesis, isto é, entre lei e legislação: enquanto o primeiro conceito, ao ser posto em prática, conduz a um estado desejável de coisas, que se costuma denominar de autoridade das leis, a segunda concepção – que tem sido a tônica no Brasil – leva a sociedade a viver sob o regime indesejável, uma vez que é imposto apenas pela coerção e não como um estado natural, embora também necessariamente coercitiva, das leis das autoridades. Como bem observou Rallo,
“O Direito não é um conjunto de mandamentos revelados, mas sim de práticas previsíveis e úteis para se alcançar os objetivos individuais por meio da cooperação humana. O Estado, por meio de suas legislações coercitivas, pode apenas arrebentar esses laços voluntários e cooperativos, destruindo na prática a própria instituição jurídica. Da mesma maneira que o planejamento econômico estatal erradica o mercado, o planejamento jurídico estatal extermina o Direito.”
Portanto, o estado de direito isto é, a primazia da lei, assim como a pomposa expressão “estado-democrático de direito”, não pressupõe a necessidade de um Estado e de um governo para garantir uma situação de direito. Podemos ir ainda mais fundo no âmago dessa questão e escrever que somente sem um Estado é possível descobrir competitivamente qual é o melhor Direito.
Logo, se a propriedade privada e a liberdade são a origem do direito, então, por definição, um ente que se caracteriza pela coerção e pela permanente violação da propriedade privada e da liberdade não pode criar outra coisa senão um Direito violentado e corrompido. Um exemplo dessa distorção é o chamado direito alternativo atualmente tão em voga no Brasil.
Essa verdadeira praga nega que o direito deva ser uma ordem espontânea e não algo deliberadamente criado por “iluminados”, levando a que os sistemas legais contemporâneos venham reservando um espaço cada vez menor à defesa da liberdade individual.
Não foi por outro motivo que Bruno Leoni (2010, p. 23) dirigiu-se a advogados e juristas em geral nestes termos:
“Parece que o destino da liberdade individual na atualidade é ser defendida principalmente por economistas, em vez de advogados e cientistas políticos.”
“No que diz respeito aos advogados, talvez a razão para isso seja que estes são, de alguma forma, forçados a falar com base em seu conhecimento profissional e, portanto, em termos de sistemas contemporâneos de lei.”
“Como teria dito lorde Bacon: “Falam como se fossem compelidos.” Os sistemas legais contemporâneos aos quais estão amarrados parecem reservar uma área cada vez menor à liberdade individual.” [18]
Como descreve com propriedade Rodrigo Saraiva Marinho, [19] “esse chamado de Bruno Leoni é essencial à advocacia, uma classe que deveria ter como missão defender a liberdade individual e não ser subserviente aos políticos de plantão.”
A função principal do Direito deve ser a de garantir os Direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade, para que os cidadãos possam exercer sua liberdade política, econômica e de consciência sem entraves. Finalizo essa seção com a frase de um amigo cearense, o advogado Rafael Saldanha:
“O Direito não apenas é anterior ao Estado, como também é uma ferramenta valiosa para se proteger do Estado e de outros criminosos.” [20]
Imposto é roubo legalizado?
Tributar significa expropriar riqueza do cidadão, não importa a finalidade a que se destina a arrecadação. Tudo o que o Estado gasta é pago compulsoriamente pelo cidadão por meio da tributação. Na melhor das hipóteses, impostos nada adicionam à atividade econômica: o que seria gasto pelos indivíduos agora será gasto pelo Estado. É tomar à força dos primeiros para dar ao segundo. E, como o Estado não precisa passar pelo teste de mercado, o gasto público é sempre ineficiente e desperdício, e má alocação de recursos, burocracia e corrupção são inevitáveis.
Deveria ser óbvio que os impostos desencorajam ou mesmo tornam impossível a atividade econômica e a acumulação de capital, além de desbaratar a riqueza, seja impedindo a produção e a formação de capital, seja desviando recursos que seriam usados pela iniciativa privada de maneira mais eficiente. Tributos prejudicam a ação humana individual, distorcendo-a e prejudicando a alocação de recursos pelos mercados e a formação de riqueza. Taxar significa empobrecer os indivíduos e a sociedade e todo e qualquer aumento de impostos implica em redução da riqueza.
Porém, na abordagem da mainstream economics, a tributação nem sempre acarreta redução da riqueza da economia, já que o Estado poderia usar eficientemente os recursos arrecadados.
A mentalidade reinante gosta de dizer que os impostos são como que o preço que devemos pagar pela civilização. Mas acreditar nessa afirmativa é um erro e uma contradição. É muito mais certo dizer que os impostos são o preço que o Estado nos força a pagar pela falta de civilidade dos outros. Na hipótese otimista, pagamos tributos para sustentar serviços que nos protegem de agressores, o que significa que pagamos impostos por causa da incivilidade de criminosos.
Passando do otimismo para o realismo, o que sucede é que o Estado utiliza boa parte de sua arrecadação para pagar políticos, burocratas, funcionários públicos, lobistas, grupos de interesse, etc. Isso significa que ele se apropria de parte de nosso dinheiro para repassá-lo a funcionários públicos e a grupos de interesse muito bem organizados e que obtêm esses recursos e outras benesses, como legislações que lhes favoreçam, em troca de propinas pagas a políticos. Portanto, somos obrigados a sustentar a falta de civilidade de muitos milhares de parasitas que nos surrupiam permanentemente e cada vez mais.
Os defensores de impostos apresentam vários argumentos, todos com uma característica comum: não se sustentam. O economista Robert Murphy, do Mises Institute, ao comentar o livro O Capital no século XXI, do francês Thomas Piketty e que foi sensação há poucos anos, um verdadeiro compêndio de ódio à propriedade privada e aos direitos individuais básicos, lista o que denomina de frases aterradoras e convida o leitor a lê-las e a tirar suas próprias conclusões. O livro fez enorme sucesso entre os denominados “intelectuais progressistas”, que chegaram ao cúmulo de relevar seus inúmeros erros metodológicos, teóricos e empíricos, pela simples razão de que endossam o espírito da obra. Escreve Murphy: “E quando você finalmente entender qual é exatamente esse espírito, você ficará extremamente preocupado quanto ao futuro. Apenas leia o material coletado”. [21]
“Impostos não são uma questão técnica. Impostos são, isso sim, uma questão proeminentemente política e filosófica, talvez a mais importante de todas as questões políticas. Sem impostos, a sociedade fica destituída de um destino comum, e a ação coletiva se torna impossível.” (p. 493)
“Quando um governo tributa um determinado nível de renda ou de herança a uma alíquota de 70 ou 80%, o objetivo principal obviamente não é o de aumentar as receitas (porque essas altas alíquotas nunca geram muita receita). O objetivo é abolir tais rendas e heranças vultosas, as quais são socialmente inaceitáveis e economicamente improdutivas…” (p. 505)
“Nossas descobertas possuem importantes implicações para o grau desejável de progressividade tributária. Com efeito, elas indicam que impor alíquotas confiscatórias sobre as altas rendas não apenas é possível como também é a única maneira de acabar com os aumentos observados nos altos salários. De acordo com nossas estimativas, a alíquota ótima de imposto de renda para os países desenvolvidos é provavelmente uma maior que 80%.” (p. 512)
“Uma alíquota de 80% aplicada a receitas maiores que US $ 500.000 ou US $ 1 milhão por ano não traria ao governo muito em termos de receita, pois ela rapidamente alcançaria seu objetivo: reduzir drasticamente as remunerações, mas sem reduzir a produtividade da economia, de modo que os salários subiriam a níveis menores”. (p. 513)
“O propósito primário dos impostos sobre ganhos de capital não é o de financiar programas sociais, mas sim o de regular o capitalismo. A meta é, em primeiro lugar, acabar com o contínuo aumento na desigualdade de renda, e, em segundo lugar, impor uma regulação efetiva sobre os sistemas bancário e financeiro para evitar crises.” (p. 518)
“[A transparência financeira associada ao imposto global proposto por Piketty] iria gerar preciosas informações sobre a distribuição de riqueza. Os governos nacionais, as organizações internacionais, e os institutos de estatística ao redor do mundo iriam pelo menos ser capazes de produzir dados confiáveis sobre a evolução da riqueza global… [Os cidadãos] teriam acesso a dados públicos sobre fortunas, cujas informações seriam fornecidas por lei. Os benefícios para a democracia seriam consideráveis: é muito difícil ter um debate racional sobre os grandes desafios enfrentados pelo mundo atual — o futuro do estado de bem-estar social, os custos da transição para novas fontes de energia, o tamanho do estado em países desenvolvidos, e muito mais — porque a distribuição global de riqueza continua muito opaca.” (pp. 518-519)
“Um imposto de 0,1% sobre o capital não seria apenas mais um imposto; ele teria, acima de tudo, o intuito de ser uma lei que obriga o relato compulsório de informações pessoais. Todos seriam obrigados a divulgar informações sobre a natureza de seus ativos para as autoridades financeiras mundiais. Só assim poderão ser reconhecidos como os proprietários legais daquilo que possuem…” (p. 519)
Referindo-se à necessidade de se abolir todos os paraísos fiscais por meio da obrigatoriedade de especificar todos os seus ativos às autoridades globais: “Ninguém tem o direito de determinar suas próprias alíquotas de impostos. Não é certo que indivíduos enriqueçam por meio do livre comércio e da integração econômica, obtendo lucros à custa de seus vizinhos. Isso é roubo puro e descarado.” (p. 522)
“Se, amanhã, alguém descobrir em seu quintal um tesouro maior do que toda a riqueza existente em seu país, seria correto aprovar uma emenda constitucional para que esta riqueza seja redistribuída de uma maneira mais sensata (é o que devemos desejar).” (p. 537)
“Na África, a saída de capitais sempre excedeu o influxo de ajudas estrangeiras. Não há dúvidas de que foi algo bom vários países ricos terem impetrado medidas judiciais contra líderes africanos que saíram de seus respectivos países com grandes fortunas. Porém, seria algo ainda mais proveitoso criar uma instituição de âmbito global voltada para a cooperação tributária e para o compartilhamento de dados com o objetivo de permitir que os países da África e de outros continentes descubram essas pilhagens de maneira mais sistemática e moderna, especialmente quando se leva em conta que empresas internacionais e acionistas de todas as nacionalidades são, no mínimo, tão culpadas quanto as inescrupulosas elites africanas. De novo, a transparência financeira e um imposto global e progressivo sobre o capital são a solução correta.” (p. 539)
“Do ponto de vista do interesse geral e do bem comum, é preferível tributar os ricos a tomar emprestado deles.” (p. 540)
Murphy sugere corretamente que essas frases revelam o real objetivo de Piketty, que não se limita apenas a aumentar as receitas dos governos com seus devaneios tributários, mas acabar definitivamente com a nossa liberdade e com a formação de fortunas.
Outro argumento dos defensores de impostos é que a infraestrutura da economia, sendo fornecida em sua maior parte pelo governo, permitiria todos os ganhos privados. Aqui, cabe arguir o que veio antes, o Estado ou a geração de riqueza?
Ora, os primeiros pagadores de impostos foram proprietários rurais que tiveram suas fazendas invadidas por nômades pastores, que os forçavam a pagar-lhes uma parte de sua renda em troca de “proteção”, tal como a máfia e as milícias de hoje. O fazendeiro que não concordasse era assassinado. Esses milicianos do passado perceberam que era melhor cobrar uma “taxa de proteção” ao invés de matar o fazendeiro e tomar suas posses, pois assim agindo poderiam obter o que necessitavam, enquanto que, se matassem os agricultores, eles mesmos teriam de gerenciar toda a produção da fazenda. E fizeram da cobrança da taxa o seu modo de vida. E assim nasceu o Estado e seu braço executivo, o governo. Não assassinar pessoas foi o primeiro serviço que o governo forneceu. Como temos sorte em ter à nossa disposição esta instituição!
Assim, não deixa de ser curioso que algumas pessoas digam que pagamos impostos basicamente para impedir que aconteça exatamente aquilo que originou a existência do governo. Mas quem era a real ameaça? Não era o governo?
Essa rápida descrição dos primeiros pagadores de tributos mostra que eles necessariamente criavam riqueza e renda antes de serem tributados: primeiro acumularam renda e riqueza; depois, só depois, passaram a ser tributados. Ou não é impossível confiscar Algo que ainda não existe?
Isso quer dizer que o governo necessariamente nasceu de motivações essencialmente espoliantes, que mantém até hoje e, também, que a existência prévia de um governo faz-se para possibilitar a criação de riqueza pelos agentes econômicos. Em outras palavras, tudo o que governo faz é com dinheiro de tributos e, portanto, primeiro algo de valor tem de ser criado antes, para só depois ser taxado. Conclui-se que é uma falácia a afirmativa de temos que pagar impostos ao governo porque são os impostos que tornam tudo possível.
A esse respeito, vale transcrever um trecho de outro artigo de Juan Ramón Rallo. [22]
“Os defensores dos impostos também gostam dizer que pagam seus impostos com satisfação e vontade, pois eles tornam possíveis serviços públicos de magnífica qualidade. A realidade é que, se não existissem impostos, a renda disponível seria 40% maior. Se não existissem regulações e burocracias governamentais — as quais criam reservas de mercado para empresas protegidas pelo governo —, a oferta de serviços concorrenciais em todas as áreas da economia seria muito maior. Consequentemente, teríamos acesso a uma gama de serviços privados de maior qualidade e a preços menores.”
“Mais ainda: se os serviços estatais fossem irremediavelmente superiores aos privados, seu financiamento por meio de impostos seria desnecessário. Sendo os serviços estatais de alta qualidade, cada cidadão gastaria voluntariamente seu dinheiro com estes serviços, financiando-os espontaneamente. Consequentemente, não seria necessário o confisco compulsório (pleonasmo intencional) do dinheiro alheio.”
“Certo?”
“Com efeito, o que aconteceria se os impostos, que são tão sacralizados por seus defensores ideológicos, passassem a ser constituídos de doações voluntárias ao Tesouro?”
“Pois isso foi feito na prática. E — oh, surpresa! —, aqueles que tanto defendem a existência de impostos não compareceram.”
“Na Noruega, com a queda do preço do petróleo, o governo de centro-direita recorreu a uma redução de impostos para tentar estimular a economia. Políticos de esquerda, intelectuais e ativistas criticaram a medida, dizendo que ela beneficiava os mais ricos e afetava os mais pobres. Ato contínuo, o governo implantou, no início de junho, um programa de “contribuições voluntárias” ao Tesouro. Com isso, todos aqueles políticos e cidadãos que haviam criticado sua redução de impostos poderiam demonstrar na prática seu amor ao estado e aos mais pobres.”
“Tudo o que a pessoa tem de fazer é ir ao website do Tesouro norueguês e doar para o governo a quantia que ele quiser.”
“Pois bem. Passado o primeiro mês de vigência, o programa norueguês de doações voluntárias arrecadou… 1.000 euros. Sim, mil euros entre os mais de 5,3 milhões de pessoas que residem no país, que é um dos mais ricos do mundo.”
“A conclusão é que, quando se trata de sair das palavras e ir para a prática, os defensores de um estado grande preferem que a tarefa de bancar o governo fique inteiramente por conta de terceiros. Aqueles que defendem impostos, principalmente aumentos de impostos, querem que apenas terceiros arquem com tudo, e não eles próprios. A esquerda gosta de criar impostos, mas não de pagá-los. Assim é gostoso.”
“Não é por acaso que ‘imposto’ é o particípio passado do verbo do verbo ‘impor’. Ou seja, é aquilo que resulta do cumprimento obrigatório — e não voluntário — de todos os cidadãos. Se não for ‘imposto’ ninguém paga. Nem mesmo seus defensores. Isso mostra o quanto as pessoas realmente apreciam os serviços do estado.”
“E isso na Noruega.”
Que tal contra-argumentar com esse exemplo sempre que alguém mencionar aquela surrada frase “se pelo menos o Estado investisse ‘bem’ o que arrecada” e outras do mesmo teor?
Conclusão:
O poder nada mais é do que a dimensão política do axioma da ação humana. Políticos são sempre movidos pela vontade de poder e, por conseguinte, estudar o poder é estudar a ação humana dos entes políticos, que buscam sempre sua maior satisfação, que vem a ser a manutenção ou ampliação de seu poder, ação que requer meios extraídos dos pagadores compulsórios de tributos.
Esperar o Estado abrir mão de receitas advindas de maiores alíquotas de tributos já existentes ou de um novo imposto, após este ser adotado “transitoriamente”, é o mesmo que esperar que um coelho faminto rejeite uma cenoura.
Por todo o exposto e recorrendo a Rothbard, [23] os impostos são uma modalidade de agressão, em que o estado toma dinheiro à força daquela fatia da sociedade que produz riqueza e o direciona para o sustento da própria burocracia, que consome riqueza.
Imposto é coerção, é roubo legalizado, é sugação de quem trabalha e produz e isto deveria ser mais do que evidente em um país como o Brasil, em que a carga tributária e toda a sua legislação são indecentes, não menos que indecentes. [24]
Pegue-se, por exemplo, a instituição da tributação, que os admiradores do Estado alegam ser, de certa forma, realmente “voluntária”. Quem quer que acredite na natureza “voluntária” dos impostos está convidado a se recusar a pagá-los e ver o que acontecerá. Pense nisso: entre todas as pessoas e instituições da sociedade, apenas o governo obtém seus rendimentos por meio da violência. Todo o resto da sociedade obtém sua renda ou por meio de doações voluntárias (associações, instituições de caridade, clubes) ou por meio da venda de mercadorias ou serviços adquiridos voluntariamente por consumidores.
Se qualquer indivíduo começasse a “taxar” os demais, seria evidentemente acusado de coerção e de banditismo, no entanto os arabescos da “soberania” encobriram de tal maneira o processo, que apenas os libertários chamam o imposto pelo seu nome de nascimento: roubo, legalizado e organizado, em grande escala.
Se o objetivo é viver em um país dinâmico, não canibalizado pela burocracia e pelos impostos, com níveis toleráveis de endividamento e onde os cidadãos não padeçam dos excessos e esbanjamentos de sua classe política, então é necessário fazer intensa pressão pelo corte de gastos públicos e jamais tolerar qualquer aumento ou criação de impostos, taxas, emolumentos, “contribuições”, etc.
Por fim, chamo a atenção para um princípio consagrado no sistema legal como parte da doutrina chamada State-Created Danger Legal Doctrine (Doutrina Legal do Perigo Criado pelo Estado). [25] Resumindo, se o Estado, por ação ou omissão, coloca os cidadãos em um estado de grande necessidade ou vulnerabilidade, então ele tem a obrigação moral de ajudar e socorrer os prejudicados. Se não fizer isso, estará sendo negligente. E, se essa negligência levar as pessoas à morte ou invalidez, então o Estado deve ser culpado de assassinato
Ou seja, se o governo faz ou deixa de fazer algo que coloca alguém em uma situação de perigo, ele tem a responsabilidade especial de garantir a segurança deste indivíduo. Se falhar, ele pode ser considerado responsável por qualquer dano físico ou prejuízo que venha a ocorrer.
Isto se aplica claramente à proibição por parte do governo do porte de armas, que é claramente imoral, pois se trata de uma medida que flagrante e diretamente viola nosso direito à autodefesa, porque o governo não cumpre — e nem tem como cumprir integralmente, pois é fisicamente impossível — sua autodeclarada obrigação de garantir a segurança de todos os indivíduos em todo e qualquer lugar do país.
Mas esse princípio não se restringe à segurança, porque também se aplica a toda e qualquer área em que o governo arvora para si a exclusividade de garantir determinado serviço ou obrigação, como nos casos da saúde, previdência, educação, transporte, infraestrutura e tantos outros.
Finalizo esclarecendo que não estou propondo a extinção do Estado, porque o vejo como um mal necessário. o que procurei mostrar, a partir da discussão sobre os direitos naturais fundamentais, Estado, lei, legislação e com o exemplo dos tributos, é que, para que esse mal necessário não seja intolerável, é preciso mantê-lo sob controle estrito, impedindo toda e qualquer manifestação de concentração de poder.
Referências:
[1] Especialmente em: The Cultural Contradictions of Capitalism, publicado pela primeira vez em 1976.
[2] Ver Iorio, Ubiratan J,. O exator impostor (ou: o publicano insano), na página do Instituto Mises Brasil. (https://mises.org.br/ArticlePrint.aspx?id=719).
[3] Tal acordo, entretanto, não pode em hipótese alguma ser chamado de “contrato social”, como muitos o fazem. Trata-se de um fenômeno não planejado e que foi evolvendo ao longo do tempo, de acordo com os usos e costumes. Na linguagem de Hayek, trata-se de uma ordem espontânea.
[4] Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, “The Federalist”, nº 51, Modern Library, New York, 1941, pág. 339.
[5] Ver, por exemplo, Hayek, F.A., “El Ideal Democrático y la Contención del Poder” in: Estudios Públicos, nº 1, Santiago, Dezembro de 1980.
[6] Payne, T., “Os Direitos do Homem”, Vozes, Petrópolis, 1989.
[7] João Paulo II, Carta Encíclica “Centesimus Annus”, Loyola, São Paulo, 1991, nº 48, pág. 65.
[8] Isso até hoje tem sido motivo de críticas injustas a Hayek, acusando-o de ter sido um social democrata.
[9] Hayek, F.A., “O Caminho da Servidão”, Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 5ª ed., 1990.
[10] Rothbard, M.N., “Power & Market”, Sheed, Andrews & Mc Meel, Kansas City, 2ª ed., 1977, pág. 237.
[11] Rothbard, M.N., “The Anatomy of the State”, in: Machan, T.R. (ed.), “The Libertarian Alternative”, Nelson Hall, Chicago, 1974, pág. 70.
[12] Esses quatro pontos constituem-se no objeto de estudo da Escola da Escolha Pública (Public Choice), associada a James Buchanan e Gordon Tullok, que se caracteriza, autores da famosa obra The Calculus of Consent, de 1962. Essa escola caracteriza-se pela aplicação da análise econômica para criticar a visão romântica de que os políticos são servidores altruístas e mostrando que são simples agentes humanos que buscam a satisfação dos seus próprios interesses.
[13] Ver, por exemplo, Hoppe, H. H., A origem da propriedade privada e da família: Uma perspectiva histórica sem igual, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 27 dez 2017.
Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1037
[14] Em: O Direito vem antes do Estado; e a propriedade privada originou o Direito, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 11 ab 2017.
Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2670
[15] Sartori, G., La Libertad y la Ley, in: Libertas, nº 5, outubro de 1986, Ano III, Eseade, Buenos Aires, págs. 3/50.
[16] Battaglia, Felice, Alcune Osservazioni sulla Strutura e sulla Funzione del Diritto e Sforza, W. Cesarini, Ius et Directum – Note sull’Origene Storica dell’Idea di Diritto, apud Sartori (pág.41).
[17] Rallo, Juan R., ibidem.
[18] Leoni, Bruno. A Liberdade e a Lei. Ed. Instituto Ludwig von Mises, São Paulo, 2010, pag. 23.
[19] Marinho,Rodrigo Saraiva, O direito é uma ordem espontânea e não algo deliberadamente criado por “iluminados”, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 23 jan 2017.
[20] Apud Marinho (Ibidem)
[21] Murphy, Robert, Algumas frases aterradoras contidas no livro de Thomas Piketty, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 30 mai 2014. Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1872
[22] Rallo, Juan R., Impostos nada mais são do que roubo legalizado, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 18 jul 2017. Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2725
[23] Rothbard, Murray N., Por que o princípio da não-agressão é o único condizente com a moralidade e com a ética, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 22 fev 2015. Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2036
[24] Entenda o porquê dessa afirmativa em Hermes, Felippe, Alguns fatos estupefacientes sobre os impostos no Brasil, publicado no site do Instituto Mises Brasil, em 28 jul 2015. Link: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2150
[25] Para informações sobre essa doutrina, ver: https://www.hg.org/legal-articles/legal-doctrine-of-state-created-danger-and-police-liability-38300